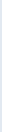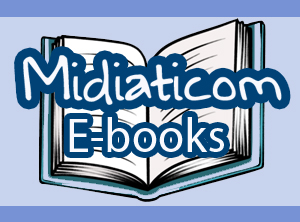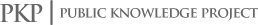Acesso à comunicação e grupos minorizados: as pessoas com deficiência e as exclusões informacionais
Resumo
Nas práticas jornalísticas, o corpo com deficiência - quase - só é midiatizado a partir das perspectivas da superação e da pena - portanto, capacitistas. É comum que, em discussões sobre diversidade - tanto na perspectiva midiática quanto em outras instâncias - a questão da deficiência não esteja em pauta. Hernández-Flores (2021) define o fenômeno a partir da denominação ‘minorias esquecidas’. Para Medina (2021),
A inclusão é uma bonita palavra que escutamos em muitos lugares, sobretudo nas escolas. Também costumamos falar de diversidade, na maioria das vezes ligada a questões de gênero. A deficiência não se incorpora habitualmente ao falar de diversidade e isso contribui para a invisibilização histórica da qual somos objeto os que temos alguma deficiência. (Gonzalez, 2021, p. 118).
Este fato apontado pela autora não tira a importância de outras discussões emergentes, que, além de gênero, incorporam questões de classe, raça, território, corpos, orientação sexual, religiosidade e, inclusive, questões climáticas. É urgente e necessário que estas temáticas sejam estudadas, debatidas e reafirmadas, uma vez que é só a partir da provocação de incômodos e ações que se produzem mudanças. No entanto, as questões de acessibilidade e de corpos com deficiências sempre são as primeiras a serem esquecidas em debates sobre diversidades. A acessibilidade comunicativa (Bonito, 2015; Bonito e Santos, 2020) é objeto de estudo das autoras há pelo menos seis anos. Neste tempo, procuramos leituras sobre outras interseccionalidades possíveis, na busca do estabelecimento de diálogos da acessibilidade no jornalismo e na comunicação. Quando abordam, por exemplo, a urgência de diversificar redações e práticas produtivas, grande parte das e dos autores - muitas vezes referências consolidadas - não trazem para o palco a deficiência como interlocução possível e necessária.
É deste ponto que partimos e o objetivo é refletir sobre distintas exclusões por parte das mídias ao não garantir o direito constitucional de acesso à informação para as pessoas com deficiência. A invisibilização das pessoas com deficiência - e, por consequência, do debate sobre a acessibilidade no jornalismo - começa no próprio diálogo sobre grupos minorizados, e que se constitui como um dos espaços mais profícuos para a emergência destas discussões.
Um ponto importante que reforça este aspecto diz respeito à maneira como estes públicos são noticiados. Ou seja, deve-se levar em conta como essas pessoas são representadas pelas mídias. Aqui, é importante fazer um adendo: enquanto pesquisadoras, ocupamos o lugar de fala de pessoas sem deficiência e profissionais jornalistas e pesquisadoras que compreendem o compromisso ético e legal com o dever de proporcionar acesso à informação e à comunicação para todos os públicos. Ou seja, não se quer falar sobre as experiências de ser uma pessoa com deficiência, mas as discussões acerca das maneiras como se reporta esse público são importantes para questionar discursos vigentes e contribuir para sua desconstrução e descontinuidade (A autora, 2025).
Com fortes ligações com os modos de entendimento e de produção capitalistas (Marco, 2020, p. 18), o capacitismo “parte da premissa da capacidade, da sujeição dos corpos deficientes em razão dos sem deficiência”. Ou seja,
Acredita que a corporalidade tange à normalidade, a métrica, já que o capacitismo não aceita um corpo que produza algo fora do momento ou que não produza o que creditam como valor. Ele nega a pluralidade de gestos e de não gestos, sufoca o desejo, mata a vontade e retira, assim, a autonomia dos sujeitos que são lidos como deficientes. O termo da eficiência aqui percorre a partir da ideia do que se entende como ser eficiente. Se vivemos em um sistema capitalista que em sua existência depende da desigualdade social, subjetiva e substancial, o capacitismo se nutre da lei do mais eficiente para domar e inviabilizar esses corpos que podem ter um ritmo de eficiência diferente. A questão aqui é a desumanização do corpo com deficiência, se possui um rótulo de ineficiência, incapaz, assim o é. (Marco, 2020, p. 18).
Na perspectiva do discurso, o capacitismo pode se manifestar por meio do contraponto entre invisibilidade e hipervisibilidade (Kuppers, 2004). O primeiro é sinônimo de uma concepção reducionista, que exalta o trágico e busca a sensibilização pela pena (Kuppers, 2004; Vendramin, 2019). Peñas e Hernández (2019, p. 7, tradução própria) exemplificam o uso do termo ‘pobrezinho’ pela mídia - e pelo corpo social - que também “é uma pessoa que trabalha, perde o trabalho, busca outro, se apaixona, se casa, tem filhos, viaja, vai ao cinema, faz compras, joga tênis, se organiza para defender seus direitos, vota, paga impostos, desfruta músicas, vê séries, é parte de um time, opina, tem suas afeições e fobias”. Ou seja, as pessoas são singulares e têm características diversas para além das deficiências.
A hipervisibilidade, por sua vez, traz um tom de heroísmo e de superação de barreiras (Kuppers, 2004). O discurso valoriza o apelo às emoções de quem lê, o que configura um certo flerte com o sensacionalismo uma vez que aspiram clicks e compartilhamentos, ou seja, objetivam a prática do clickbait (Autora, 2023). Valores-notícia (Traquina, 2013; Wolf, 2009) muito usados nestes casos são o inesperado e o conflito (Autores, 2021).
Um exemplo deste tipo de discurso é a maneira como a mídia cobre as Paralimpíadas, com uma profusão de reportagens e notícias que exaltam histórias de superação, de como as e os atletas conseguiram superar barreiras e dificuldades e, ao chegarem em espaço de prestígio como o de competições paralímpicas, tornam-se herois e heroínas - exemplos a serem seguidos. Nas redes sociais digitais, neste período, é comum encontrar comentários e postagens que colocam estes atletas como fonte de inspiração para que pessoas sem deficiência deixem de reclamar de problemas cotidianos, que elas colocam como ‘pequenos’ diante das ausências de membros, da visão ou da audição, por exemplo. Ou seja, na posição de heroísmo, as pessoas com deficiência são incompreendidas nas maneiras diversas com que vivem, entendem e se locomovem no mundo.
Para Gomes e Moutinho (2021), a produção deste tipo de notícia e reportagem acabam por constituir ‘identidades mediatizadas da deficiência’. É uma forma de narrar que se enraiza no modelo médico da deficiência, que a entende como uma doença a ser curada, e não como uma característica da diversidade humana - que é o entendimento do modelo social da deficiência (Gomes e Moutinho, 2021). “Pode-se afirmar que a narrativa supercrip continua enraizada nas representações da deficiência, não só no sentido de superação, como também em uma cobertura midiática baseada na personificação do indivíduo com deficiência, deixando de aprofundar e discutir as causas de exclusão e opressão social desse conjunto de pessoas” (Gomes e Moutinho, 2021, p. 322).
Ao analisar a representação de pessoas com deficiência em reportagens e notícias sobre suas experiências e sobre a acessibilidade no portal G1, Freitas (2021, p. 196) quantificou “apenas 10% das unidades de análise pessoas com deficiência foram mobilizadas como fontes para discutir questões diretamente ligadas às suas realidades, totalizando apenas 40 de um universo de 373 matérias”, o que “mostrou uma tendência de silenciamento”. Ou seja, os públicos com deficiências convocados para falar sobre suas próprias experiências são exceção.
O silenciamento, contudo, se dá de formas distintas. Uma delas é o silenciamento por exclusão, quando a temática da deficiência é abordada, ignorando, desconsiderando e excluindo por completo as perspectivas das próprias pessoas com deficiência. Nesses casos, em geral, as fontes limitam-se às oficiais. Com isso, perde-se a oportunidade de se tornar os relatos jornalísticos mais ricos, plurais, diversos e consistentes. O outro tipo é o silenciamento por tutela, quando a fala das pessoas com deficiência é substituída pela de alguém considerado mais capaz e competente para expor as opiniões, avaliações e perspectivas em lugar dessas pessoas. Aqui, a subjetividade das pessoas com deficiência é apenas tangenciada, mas não incluída. (Freitas, 2021, p. 196 - 197).
A ausência de fontes com deficiência para tematizar suas próprias experiências também foi notada por Berni e Maldonado (2022) em investigação que analisa a fala Down que é negada no discurso jornalístico. Além de reverberar falas capacitistas, o jornalismo aciona porta-vozes, ou seja, pais, mães e irmãos que falam no lugar de sujeitos com Síndrome de Down (Berni e Maldonado, 2022).
Em tentativa de interlocução interseccional, Araújo-Freitas e Silva (2024) se aprofundam no debate de interfaces entre deficiência e gênero. “Se, como temos visto, as mulheres têm sido historicamente invisibilizadas e silenciadas, as mulheres com deficiência têm sofrido com a falta de respeito e opressão de forma ainda mais intensa” (Araújo-Freitas e Silva, 2024, p. 117, tradução própria). As autoras analisam possibilidades de virada na maneira como se entende a cobertura jornalística sobre estas temáticas, e veem, em veículos alternativos posicionados, possibilidades de mudanças na forma como se noticiam estes públicos (Araújo-Freitas e Silva, 2024).
Para além da mirada do discurso, a problemática que constitui a pesquisa também tem aspectos técnicos e legislativos, que se entrelaçam. Bonito (2015), em tese, apontou aspectos legais como fundamentais para compreender o contexto em que a acessibilidade se encontra hoje no Brasil. O autor chama a atenção para os direitos por meio da conceituação das ‘legislações invisíveis’: existem garantias constitucionais de direitos das pessoas com deficiências - o que inclui o direito de acesso à informação e comunicação -, mas estas não são cumpridas e nem fiscalizadas (Bonito, 2015). Segundo o autor, isto parte de estruturas hierarquizadas que privilegiam hegemonias vigentes, em que a produção de informações é feita e comandada por pessoas sem deficiências para seus iguais (Bonito, 2015).
Na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - nº 13.146 (Brasil, 2015), é obrigatório que sites com representação comercial no país tenham acessibilidade - o que inclui empresas jornalísticas. Um dado que mostra a emergência da discussão é de pesquisa realizada pelo Movimento Web Para Todos em 2024: 96,6% dos sites de notícias brasileiros não são acessíveis (WPT, 2024). O número reflete a ausência de inserção de tecnologias assistivas - TA’s (Brasil, 2015; Sartoretto e Bersch, 2024) em práticas produtivas. Em pesquisa anterior, estabelecemos como inserir diferentes TA’s em etapas de produção jornalística (Autora, 2023).
Além disso, de um ponto de vista técnico, há pouca inserção de acessibilidade em produtos e processos jornalísticos. Esta ação decorre mais de iniciativas isoladas, geralmente de repórteres que se interessam pela temática, e não de maneira orientada, como preceito ético e editorial (Autora, 2023). Os números da pesquisa da WPT (2024) refletem isso.
Em comparativo, Segatto (2015) analisou, há uma década, a acessibilidade e multimidialidade em dez veículos latinoamericanos. A autora afirma que “as iniciativas de acessibilidade são praticamente inexistentes” (Segatto, 2015, p. 160) mesmo com opções de recursos automatizados que poderiam ser usados para a possibilidade de oferta de conteúdos a pessoas com deficiência. “No entanto, para que os jornalistas e as empresas de jornalismo se preocupem com a acessibilidade de suas notícias é necessário que as pessoas com deficiência sejam tratadas como público do webjornal” (Segatto, 2015, p. 160). Ao comparar os dois resultados de pesquisas, mesmo separadas por quase dez anos, os resultados são semelhantes. Isso demonstra que, ao menos na perspectiva da prática jornalística, o debate não avançou. Para Medina (2021), é dever dos meios de comunicação a produção de narrativas acessíveis. “[...] de outra maneira, são os próprios meios de comunicação os que geram barreiras” (Medina, 2021, p. 116, tradução própria).
Posto esse panorama, podemos entrelaçar o debate com os estudos de midiatização e circulação, ou seja, o que se noticia ou não sobre estes públicos, e a questão de acesso à informação. Em outras palavras, a legislação garante que a pessoa com deficiência tenha acesso à comunicação e informação, mas o conteúdo não chega a ela. Ou seja, a informação não circula e não ocorre comunicação entre as mídias e as pessoas com deficiência. Esse fato envolve não somente possibilidades de acesso, mas cumprimento da legislação e, consequentemente, possibilidades de exercício de cidadania por sujeitos com deficiência. Além disso, questiona a própria função do jornalismo e seus preceitos éticos e democráticos e, dessa maneira, coloca em xeque a própria credibilidade do jornalismo (Autores, 2024).
A pesquisa em desenvolvimento dá prosseguimento a investigações realizadas sobre comunicação, jornalismo e acessibilidade nos últimos seis anos. Dentre as questões já mencionadas, constata-se que há uma “não circulação”, visto que as pessoas com deficiência não conseguem acessar conteúdos midiáticos. Estes, além de invisibilizarem esses grupos minorizados, em sua maioria, não inserem tecnologias assistivas, o que implica no não acesso.