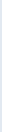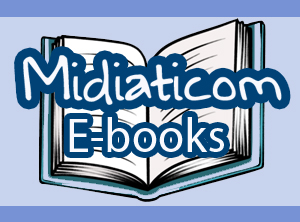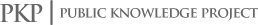Redes dissidentes e a reinvenção das identidades LGBTQIANP+: Mediações, interseccionalidades e resistências
Resumo
Em tempos de disputas intensas pelos sentidos da democracia, dos direitos humanos e da dignidade das diferenças, os coletivos LGBTQIAPN+ vêm ocupando um papel central na produção de contra-narrativas que tensionam os regimes normativos de gênero, sexualidade e corporalidade. Este trabalho tem como objetivo refletir, sob uma abordagem teórico-empírica, sobre como esses coletivos, especialmente aqueles organizados em rede e atuantes nas periferias urbanas, constroem discursos e práticas de resistência que ressignificam as identidades em circulação, desestabilizando os marcos hegemônicos da representação midiática. Trata-se de pensar as mediações e midiatizações a partir de uma perspectiva semiopragmática, compreendendo os signos em sua articulação com sujeitos e práticas culturais que operam fora dos centros tradicionais de enunciação, levando em conta os atravessamentos de raça, classe, gênero, território e sexualidade.
O presente estudo se ancora nas reflexões sobre circulação e midiatização, conforme desenvolvidas por autores como Verón (1993) e Fausto Neto (2010), para quem os sentidos não se fixam em pontos de origem, mas ganham vida nos circuitos de apropriação, resignificação e conflito. A proposta entende a circulação como um espaço privilegiado de disputa simbólica, onde coletivos subalternizados reconfiguram os modos de existir e de se fazer ouvir. Ao invés de identidades fixas e estáveis, observa-se a emergência de subjetividades em trânsito, constituídas no entrelaçamento entre práticas comunicativas e experiências sociais marcadas por múltiplas opressões.
A disputa por sentidos envolvendo essa população ocorre na medida em que confronta o sistema de valores associados aos gêneros masculino e feminino e às sexualidades no campo social, por meio da presença de corpos considerados "anormais" nos espaços midiáticos. Nesse contexto, plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter e outras disponíveis na internet, por serem de "uso gratuito", possibilitam que os sujeitos difundam suas próprias representações por meio de produções fotográficas, audiovisuais e textuais. Essas representações circulam tanto nas mídias digitais quanto entre indivíduos e instituições, atuando nas subjetividades alheias e promovendo questionamentos ao sistema binário de sexo e gênero. Como afirma Fausto Neto, trata-se de uma "ordem interdiscursiva onde a circulação se aloja – como terceiro – e se oferece como um novo lugar de produção, funcionamento e regulação de sentidos” (2010, p. 8).
Neste trabalho, problematizamos os processos de midiatização nos quais os sujeitos LGBTQIAP+ estão inseridos, partindo da compreensão de que esses sujeitos respondem a dinâmicas sociais e são, ao mesmo tempo, parte e produto de um sistema social midiatizado que os posiciona em um lugar de subalternidade — seja em termos sociais, políticos e econômicos, seja no plano discursivo e simbólico — em relação ao aparato hegemônico baseado na norma sexo-binária heteronormativa.
Para compreender esse processo de midiatização, recorremos à definição de Fausto Neto:
A midiatização se constitui a partir de formas e de operações sociotécnicas, organizando-se e funcionando com base em dispositivos e operações constituídas de materialidades e de imaterialidades. Seus processos de materialidades se passam em cenas organizacionais/produtivas e em cenas discursivas. São em tais âmbitos que se realizam as possibilidades pelas quais a midiatização pode afetar as características e funcionamentos de outras práticas socioinstitucionais. (Fausto Neto, 2006, p. 10)
Assim, reconhecer o papel dos sistemas midiáticos nos processos sociais implica compreender sua capacidade de afetar práticas cotidianas e institucionais, ocupando um lugar central, de referência e de transversalidade no tecido social — como fontes de informação, entretenimento e construção de imaginários (MARTÍN-BARBERO, 2004 apud FAUSTO NETO, 2006).
No entanto, a população LGBTQIAP+ permanece à margem desses processos de midiatização, uma vez que os discursos produzidos pela mídia atravessam suas subjetividades e impõem pressões sobre a configuração de suas identidades sexo-genéricas. Essa influência midiática pode ser observada em diversas formas: nos referenciais de nomeação e representação que remetem a personagens de telenovelas; na marginalização cultural e social quando seus corpos aparecem mutilados nas seções policiais ou sensacionalistas dos meios de comunicação; ou ainda na espetacularização de suas corporalidades e subjetividades.
Nesse ambiente midiatizado, as populações sexo-gênero dissidentes interagem com as lógicas das mídias a partir de uma posição de marginalidade e marginalização, a partir da qual interpelam as condições de produção e reconhecimento (Verón, 1993), buscando construir sentidos mesmo em contextos de subalternização frente ao discurso de poder heteronormativo sustentado pelo sistema sexo-gênero binário homem-mulher. Então, afinal, que discursos essa população constrói? Para Verón, “qualquer que fosse o suporte material, o que chamamos um discurso ou um conjunto discursivo não é outra coisa senão uma configuração espaço-temporal de sentido” (1993, p. 127).
Acredita-se que ainda se está longe de alcançar uma interação em condições de igualdade entre as lógicas dos meios de comunicação e os diversos campos sociais, especialmente enquanto persistirem populações periféricas cujas produções de sentido seguem sendo invisibilizadas, anulando, de certo modo, essa rede significante, como propõe Verón (1993).
Para analisar essas dinâmicas, o trabalho mobiliza o conceito de interseccionalidade, tal como formulado por Patricia Hill Collins (2021), como uma chave analítica capaz de captar as formas entrelaçadas de opressão que incidem sobre corpos dissidentes. No contexto dos coletivos LGBTQIAPN+, raça, gênero e classe não operam isoladamente, mas formam um sistema interdependente que molda tanto as vulnerabilidades quanto às formas de resistência. A noção de “coletivos interseccionados” parte, assim, do reconhecimento de que a luta por visibilidade e dignidade exige a articulação de múltiplos marcadores sociais, especialmente em contextos de profunda desigualdade estrutural, como o brasileiro.
Apesar das especificidades dos marcadores de raça e sexualidade, Collins (2022a) destaca que o racismo e a LGBTfobia apresentam diversos pontos de intersecção. A autora evidencia essa proximidade ao refletir sobre as prisões e os armários como metáforas que conectam as experiências de raça e sexualidade. Dessa forma, racismo e heterossexismo convergem, uma vez que ambos se valem de mecanismos institucionais semelhantes para sustentar hierarquias raciais e sexuais, além de compartilharem práticas voltadas à disciplina social e à manutenção do status quo.
Com base nesses referenciais, o estudo tem como objetivo geral investigar como coletivos LGBTQIAPN+ organizados em rede produzem discursos, signos e estratégias de visibilidade que atuam na reconfiguração dos imaginários sociais e midiáticos. Especificamente, busca-se compreender como esses discursos tensionam as representações convencionais de gênero e sexualidade na mídia; analisar as formas de mediação cultural ativadas por esses coletivos nas redes sociais e em seus territórios de atuação; e interpretar a mobilização da identidade como um processo relacional, situado e performativo, profundamente marcado pela interseccionalidade.
A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com base na análise semiopragmática das formas de circulação midiática e dos processos de significação coletiva. O corpus empírico é composto por postagens e campanhas produzidas por coletivos LGBTQIAPN+ em plataformas digitais como Instagram, TikTok e Twitter/X, além de registros de entrevistas abertas com integrantes de três coletivos de base da Grande São Paulo e de Salvador. Entre os coletivos analisados estão o “Bixa Nagô”, a “Coletiva Luana Barbosa” e o “AfroBapho”, cujas práticas comunicativas exemplificam estratégias de resistência estética, política e afetiva profundamente enraizadas em experiências interseccionadas e periféricas.
Os primeiros achados da análise indicam que tais coletivos produzem identidades não como essências fixas, mas como processos abertos, coletivos e inventivos. Em seus enunciados e performances, mobiliza-se uma gramática do afeto, da ancestralidade, do corpo e da coletividade que contesta as lógicas narrativas e visuais hegemônicas. As identidades LGBTQIAPN+ emergem, assim, como práticas de resistência e de reinvenção do comum, frequentemente articuladas à denúncia do racismo estrutural, da transfobia, da violência de Estado e da exploração econômica. A circulação desses signos e narrativas não apenas reposiciona esses sujeitos nos espaços públicos, mas também contribui para a criação de novos regimes de sensibilidade e reconhecimento.
Nesse contexto, as mediações não são concebidas como filtros que distorcem a mensagem original, mas como zonas produtivas de sentido, onde os discursos podem ser apropriados, transformados ou subvertidos. Os coletivos analisados mostram que os sentidos circulam em condições desiguais, mas não determinadas. É nesse entre-lugar da recepção ativa e criativa que emergem novas possibilidades de existir, comunicar e resistir. A hipótese central é que as redes dissidentes LGBTQIAPN+ operam como espaços de elaboração simbólica e política de mundos possíveis, apontando para formas de vida que recusam a cisnormatividade, o racismo e o extrativismo epistêmico.
Ao mesmo tempo, o estudo problematiza as críticas contemporâneas ao “identitarismo”, muitas vezes formuladas a partir de uma perspectiva despolitizada ou universalizante. Tais críticas, ao deslegitimarem as lutas baseadas em marcadores sociais da diferença, ignoram o fato de que as identidades subalternizadas continuam sendo alvo de múltiplas formas de exclusão, violência e invisibilidade. Longe de representar um fechamento ao outro ou um tribalismo político, os coletivos analisados demonstram que a interseccionalidade pode ser mobilizada como uma ética de cuidado, solidariedade e cooperação, que conecta lutas diversas por justiça social e ambiental.
A crítica ao identitarismo, nesse sentido, deve ser feita não para anular as diferenças, mas para evitar sua reificação e abrir espaço para alianças políticas mais complexas e transformadoras. Os coletivos LGBTQIAPN+ operam nesse registro, articulando demandas por reconhecimento com práticas de redistribuição, acolhimento e recomposição dos vínculos sociais. Suas ações comunicativas são marcadas por linguagens plurais — que incluem o corpo, a estética, a memória, o humor, a oralidade e a performance — e que desafiam as formas tradicionais de fazer política e de contar histórias.
Em conclusão, a proposta deste trabalho é contribuir para a compreensão dos modos como os coletivos LGBTQIAPN+ em rede produzem práticas comunicativas insurgentes que reposicionam as identidades dissidentes nos fluxos da circulação midiática. Contra a lógica totalizante da representação hegemônica e os riscos de esvaziamento da diferença em nome da tolerância liberal, esses coletivos apontam para a possibilidade de uma comunicação decolonial, ética e afetiva, que reconhece a pluralidade de saberes, corpos e modos de existir. Ao inventarem novas formas de habitar o mundo e de significar a experiência coletiva, eles nos convocam a imaginar outras formas de democracia, de comunidade e de humanidade — menos hierárquicas, menos normativas e mais visíveis.